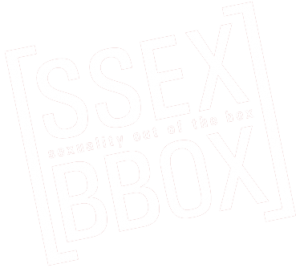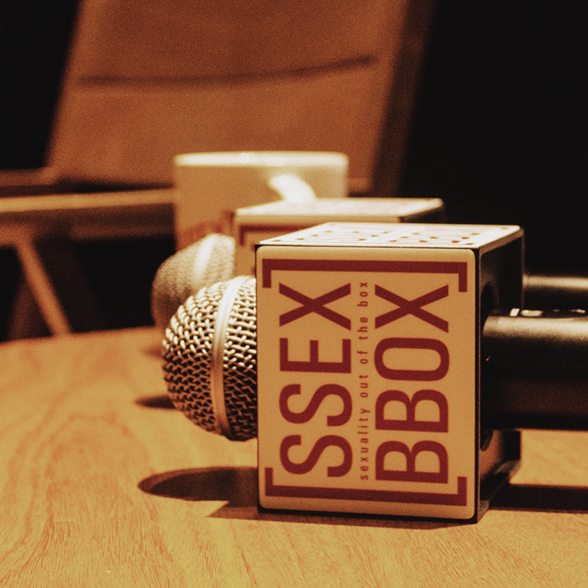“Precisei me tornar um homem para aceitar minha vagina”
MARCIA ROCHA – ao cumprimentar Buck Angel após sua palestra.
“É impressionante o quanto somos opostos e o quanto somos iguais”
JOÃO W. NERY, escritor e homem trans
“Buck Angel tem orgulho de ser um homem com vagina. Eu tenho orgulho de ser um homem sem pênis. Mas estamos total de acordo, nossos discursos batem legal”.
“As masculinidades são várias”
“Muitos trans homens são gays, muitos são bissexuais. Eu sou hétero”
FE, professor
“O que mais me marcou aqui foi a ver a possibilidade de que nós nos vejamos realmente como uma comunidade. Claro que é importante termos em mente a questão dos marcadores sociais, mas esses não devem nos separar, mas sim criarem empatia, para que possamos lutar juntos pelos nossos direitos. E dentro disso, acho importante falar sobre a importância de valorizar os aliados. Digo isso, porque algumas discussões que vi aqui me fizeram lembrar de uma vez em que, numa discussão com uma pessoa que tinha uma opinião contrária que a minha, eu me enervei tanto que cheguei a cuspir cerveja no tênis do cara – ao invés de continuar mantendo a didática. Claro que tem vezes que não dá, mas eu fiquei pensando em como, na verdade, o melhor caminho é continuar mantendo a paciência para prosseguir com o discurso. Outro ponto foi conseguir ver a representatividade da não binaridade aqui. O que foi muito legal, porque eu tinha uma certa noção de que as pessoas não binárias estavam se colocando no mesmo patamar de transfobia, e são preconceitos diferentes. Eu tinha uma certa empatia por entender que existem certas inquietações parecidas. Foi incrível ver aqui pessoas falando que têm consciência de que a passabilidade cis lhes dá privilégios, sem que isso as deixasse acuadas. Elas podem usar essa autocrítica para se desconstruir mesmo, para terem em conta esse privilégio e lutarem ao lado outras das outras. Isso me deu até uma certa esperança de que a gente possa vir a criar uma mitologia brasileira para a não binaridade. Eu não sei como isso pode ser feito, mas isso me deixa com uma certa inspiração para ter ideias com relação a isso. A única coisa que me incomodou foi a invisibilidade da bissexualidade – eu não senti que foi muito bem representada. Mas não é uma crítica destrutiva, é uma sugestão para que isso aconteça da próxima vez. Porque são pessoas que não se sentem muito conformes nem entre gays nem entre lésbicas, mas também nem entre os héteros, por conta de um certo preconceito contra o que seria uma ‘sexualidade indecisa’. Outra coisa foi o que o Buck falou sobre a questão do sexo como algo empoderador e libertador também. Isso é algo que eu ainda estou digerindo, mas que vou levar para fora daqui”
INGRID, videomaker que registrou a conferência
“Essa experiência me mudou muito. Eu ouvi muito – até por fazer o som também, preciso estar atenta a tudo. Cheguei aqui com muitas confusões a respeito de nomenclaturas, leis, com muita curiosidade sobre esse mundo no qual eu nunca tinha entrado, do qual nunca tinha participado. E essa conferência me mostrou como as pessoas têm ainda uma dificuldade muito primordial, que é a de serem reconhecidas como seres humanos. Eu nem dormi direito durante essa semana, porque tive sonhos com essas questões, de tanto que isso mexeu com meu subconsciente de uma forma tão forte, tão violenta, que se transformou em sonhos com imagens muito fortes. Eu sou uma mulher cis, branca, nunca tive nenhuma relação homossexual, mas percebi que dentro de mim existe a vontade de experienciar o masculino, experimentar o que é ficar no lugar de uma pessoa de outro sexo, porque isso é o ser humano. Eu não quero ofender ninguém, mas as pessoas que são hétero, todo mundo, têm isso dentro de si. Lá no subconsciente, lá no fundo, a gente na verdade tem tudo isso dentro de nós mesmos. Foi com os meus sonhos que eu percebi o quanto isso é forte em mim. E o que é mágico desse espaço é a gente poder se tratar como pessoas e não como títulos – homem, mulher ou o que seja. Nós somos pessoas. Eu disse que entrei confusa, mas estou saindo mais confusa ainda, estou com uma confusão de identidade violenta, e isso é maravilhoso”
VIVIAN, estudante de jornalismo e mulher trans
“Apesar de a gente ter contado aqui com um espaço bastante confortável, eu já participei de outras rodas de conversas e encontros, e muitas das pessoas que encontrei nesses lugares não estiveram aqui – ao menos eu não as vi. Além disso, acho que um ponto que talvez precisasse de mais ênfase diz respeito às crianças transexuais. O Buck colocou um pouco da experiência dele, o João Nery também citou um pouco disso, mas acho que vale eu contar um pouco da minha experiência, porque acho esse um debate necessário. Eu contei para os meus pais há uns três anos, quando eu comecei a minha transição. Eles me perguntam porque eu não contei antes. E estranho porque imagine uma criança que cresce num mundo onde, na escola, as aulas de biologia mostram o homem e a mulher. A única exceção a isso está na genética, por exemplo, onde a gente fala em anomalias – Síndrome de Klinefelter, Síndrome de Turner –, mas nunca se fala em transexualidade. A pressão sobre essas crianças é inimaginável, ela não tem como se expressar. Eu me sentia como mulher já antes dos seis anos, se eu fosse explicar para os meus pais, eu não iria ser levada a sério. Porque o discurso das crianças não é considerado. Não há discussão na escola sobre transexualidade. Enfim, acaba-se cobrando da criança uma resposta que ela não tem. No meu caso, a saída foi partir para a fantasia, era onde eu vivia. Até que você vai crescendo, no meu caso eu acabei me isolando bastante das pessoas. Eu descobri que existiam tratamento hormonais para bloquear a puberdade – inclusive para menores de idade, mas não aqui no Brasil – por meio de uma reportagem da revista Veja em 2004 – numa matéria que, a meu ver, não tratou o assunto da forma que poderia. Eu tinha 14 anos. De qualquer forma, foi a primeira vez que eu me deparei com a palavra transexualidade sendo tratada com alguma dignidade. Porque, até então, eu só via esse termo circulando como chacota nos programas de fofoca que minha avó assistia à tarde em casa. Mas ao mesmo tempo em que eu descobri que o anseio de alterar meu corpo era possível, eu descobri também que uma parte informada da sociedade me via como uma doente. Por isso uso esse momento para ressaltar que a questão das crianças sexuais precisa ser mais discutida. E não somente no que diz respeito às crianças, mas também de pessoas que são diagnosticadas como esquizofrênicas, borderline, bipolaridade, uma parcela que também tem dificuldade para ter acesso a essas cirurgias e tratamentos”
MAGÔ TONHON, voluntária na produção da conferência
“Eu tenho certeza que haverá uma próxima conferência porque, na verdade, ela já existe. Ao menos virtualmente. E tudo o que existe na matéria um dia foi sonhado. Então é importante idealizar também. Eu falo de um lugar muito específico que é o de uma pessoa que ajudou, contribuiu, colaborou, para produzir essa conferência. É muito importante o exemplo de onde eu falo para, inclusive, justificar minha própria fala. Toda vez que que alguém nos diz algo, essa pessoa está esperando ser ouvida. E a gente tem uma mania muito problemática que é sempre esperar o nosso momento de falar só para falar depois. Essa conferência, a meu ver, aponta para um público com características de multiplicidade, inclusive cultural, e absurdamente diverso. E, sobretudo, pessoas carentes de um lugar de fala, carentes de microfone mesmo. Eu vi muitos relatos pessoais, por exemplo. O que demonstra como essas pessoas têm essa carência. A fala das pessoas é muito importante, mas a gente precisa aprender um pouco a ouvir mais – e, sobretudo, a compreender. E se não compreender, não achar que já compreendeu. Pergunte novamente. A gente tende a idealizar as coisas, mas na prática tudo pode mudar. As dinâmicas mais orgânicas acabam sendo absorvidas e algumas práticas acabam mudando. O que eu sonho para a próxima conferência é que até lá – nós temos um ano –, nós possamos pensar, e repensar continuamente, a respeito da importância da escuta atenta. Porque se, enquanto você fala, eu apenas estiver esperando o meu momento de falar, eu não estou ouvindo o que você falou. Isso foi muito rico na fala de todas as pessoas, porque o discurso e a narrativa foram sendo permeados organicamente pelas respostas. O que eu levo comigo é, sobretudo, o exercício de ouvir. Cito aqui uma coisa que minha avó dizia muito, que era assim: não é à toa que a gente tem dois ouvidos e uma boca, então ouça mais e fale menos. E eu sei que isso é muito difícil, principalmente quando a gente está num lugar onde as pessoas estão justamente querendo nos ouvir, vindos de uma realidade onde a gente não tem voz, onde nossas demandas não são respeitadas, onde lidamos cotidianamente com pessoas que não nos entendem, que partem sempre de um pressuposto do que é certo e do que é errado”
DANIELA SEA
As muitas faces de Daniela Sea
Ativista LGBTQI, cineasta e atxr, Daniela Sea atua no cinema, na performance e na música. Aos 16 anos, saiu de casa em busca de maneiras diferentes, e próprias, de estar no mundo – jornada que levou, por exemplo, à experiência de viver como um homem durante seis meses na Índia. A fama veio por papéis como o do homem transexual Moira/Max Sweeney, no seriado de TV The L Word, do canal Showtime, e também pela participação no filme Shortbus (2006), do diretor John Cameron Mitchell (também criador de Hedwig – Rock, Amor e Traição, de 2001). Em 2011, retomou a parceria com Mitchell no curta-metragem Lady Dior, produzido para a grife francesa Christian Dior. Nenhuma dessas experiências na TV ou no cinema, no entanto, lhe conferiram nenhum estrelismo à personalidade. Figura acessível, acompanhou diversas mesas e rodas de conversa durante todos os dias da 1ª Conferência Internacional [SSEX BBOX] & Mix Brasil. Sempre com um sorriso no rosto e um violão na mão.
A seguir, trechos das falas de Daniela nos três momentos oficiais em que participou do evento: nas mesas “Conexão São Paulo – Bay Area” e “Pra Lá do Binarismo”, e na sessão de fotos e autógrafos “Dialogando com Daniela Sea”.
Alienígena
“Eu sempre me senti alienígena na maior parte do tempo – e continuo a me sentir assim, de jeitos diferentes. De certa forma, minha vida foi uma constante revelação. Quando eu penso em como eu me identifico, lembro que esse foi um tema sempre muito confuso para mim. Eu era uma criança que parecia um menino e, embora que não possa dizer que me sentisse como um menino, tampouco eu me sentia como as outras garotas ao meu redor. Eu tenho sorte de sempre ter tido muita liberdade para experimentar, desde criança – ao menos dentro da minha família. Por exemplo, eu nunca fui forçada a usar camiseta, como as meninas, o que me fazia sentir selvagem, de certa forma. E isso foi muito libertador. Eu sinto que a minha essência não se identifica com determinado gênero ou sexualidade.”
Fora da caixinha
“Eu sempre me refugiei, em diversos momentos, em comunidades diferentes, como entre as sapatonas, como ocorreu quando eu comecei a me descobrir. Sempre fui queer, sempre rompi limites. Sempre que tentavam me colocar numa caixinha, eu respondia quebrando os padrões. Pelo fato de me identificar muito com algumas etnias dos nativos norte-americanos – nas quais é possível, por exemplo, que você se vista de acordo com o gênero com o qual você se identifica –, eu costumo dizer que tenho dois espíritos, o que é uma forma também de dizer que eu aceito o binarismo. O que não me impede de muitas vezes já ter me identificado como trans, mas no sentido de um espectro de possibilidades dentro do qual você pode se mover. Eu nunca abri mão de ser uma pessoa livre para me expressar de formas diferentes dependendo do que eu sentia em determinado dia ou momento. Todas as vezes que eu tentei me encaixar numa categoria ou em outra, eu me senti oprimida. Era como se eu tivesse apagando partes de mim.”
Resistência e compaixão
“Quando eu penso sobre gênero, eu penso no amor, na possibilidade de liberdade, penso na vida como uma constante experiência, e quero estar ao redor de pessoas que pensam do mesmo jeito. Minha maior ambição é estar vive e saber que eu faço parte da Terra. O importante para mim é pegar essa força que eu recebo da minha comunidade e levá-la para quem não vive isso. O que eu sempre comprovo, convivendo com as pessoas, é que o que temos de mais precioso é a doçura, é sermos sempre agradecidos e fortes. Resistir e nos proteger, mas também ter compaixão e buscar entender porque tantas pessoas se sentem presas. Todos nós nos sentimos presos em níveis diferentes. Eu sinto muita compaixão pelos cristãos, pelos evangélicos, porque deve ser um jeito muito difícil de viver, carregar todo esse ódio. Eu tenho certeza que eles não são felizes.”
CAROL QUEEN
A rainha do sexo
Esqueça tudo o que você acha que sabe sobre uma pesquisadora e autora de livros na área da sexualidade. PhD em sexualidade humana, autora, editora, socióloga, sexóloga e educadora ativa no movimento feminista sex-positive nos Estados Unidos, Carol Queen é, ao mesmo tempo, uma das mais importantes ativistas na causa pelos direitos da comunidade queer e dos profissionais do sexo – trabalho que desenvolve desde os anos 1970 – e uma figura que resolveu fazer do conhecimento que adquiriu uma alça de acesso a todos, em vez de se enclausurar em uma redoma acadêmica. Ainda durante a década de 1970, foi responsável pela inclusão dos indivíduos bissexuais, como uma identidade positiva, dentro da sigla LGBT. Publicou, entre outros títulos, Real Girl Live Nude: Chronicles of Sex-Positive Culture e The Leather Daddy and the Femme (romance erótico – área da qual é uma renomada autora). Assinou também o tutorial Exhibitionism for the Shy: Show Off, Dress Up and Talk Hot, produziu filmes adultos, participou de eventos, workshops e palestras no mundo todo, além de ser editora de diversas compilações e antologias. A especialista fala com frequência sobre cultura sexo-positiva e diversidade sexual em universidades e conferências internacionais. É cofundadora do Center for Sex and Culture (em São Francisco) e trabalha como sexóloga na Good Vibrations, sex shop fundada por feministas. Durante a 1ª Conferência Internacional [SSEX BBOX] & Mix Brasil, foi plateia atenta e convidada das mesas “Conexão São Paulo – Bay Area” e “Para Lá do Binarismo” e palestrante solo no painel “A História e o Futuro da Identidade Queer”.
A seguir, trechos das falas da Dra. Carol Queen:
Anos incríveis
“Tenho estado envolvida com o universo da sexualidade nos Estados Unidos desde 1970. Assumi minha bissexualidade em 1973 e desde então já testemunhei muitas mudanças. Mudei para São Francisco em 1985 – ou seja, no ápice da epidemia da aids, que provocou, por sua vez, muitas mudanças. A comunidade que se criou em torno da sexualidade e da diversidade de gêneros data dessa época, quando surgiu um ambiente incrível para o ativismo. Foram anos horríveis e ao mesmo tempo incríveis.”
Ocupação diária
“Eu também trabalho numa sex shop chamada Good Vibrations – minha ocupação diária já há 25 anos. O Center for Sex and Culture é um trabalho de caráter voluntário, movido pelo amor. E o mundo que eu exploro na Good Vibrations está ligado a duas coisas: às pessoas de todas as orientações, todos os estilos de vida no que diz respeito à sexualidade, e ao desejo – desde brinquedos sexuais, livros, vídeos. Tornou-se um lugar onde essas pessoas, tão diferentes umas das outras, encontram um ponto de convergência de seus interesses. Isso é muito importante para mim.”
Sexo não é simples…
“Eu nunca consegui ser uma pessoa que se enquadrasse em uma classificação – sobretudo quando falamos de orientação sexual. Isso sempre foi impossível para mim. Sou bissexual desde 1973 e, nos anos de 1970, se você fosse bissexual não conseguia encontrar uma namorada em lugar nenhum! Era terrível. Então, por dez anos eu me identifiquei como lésbica, embora sempre tivesse entendido que havia algo em mim que estava escondido. Eu não sabia se iria amar um homem novamente algum dia, mas era algo que abrigava um ‘talvez’. E mesmo havendo uma comunidade, esse ambiente que estávamos criando, abrir espaços para aqueles que não eram heterossexuais, não se encaixavam na ordem heteronormativa, não eram cisgêneros, parecia muito difícil. Havia sempre a sensação de não pertencimento. É por isso que meu ímpeto mais importante, como ativista, é contribuir para a discussão sobre sexo e sexualidade, tornar o sexo algo conhecido, compreendido em sua complexidade. O sexo não é simples. Qualquer pessoa que tenta simplificá-lo, invariavelmente, vai excluir muitas pessoas. Além disso, sempre foi crucial para mim ajudar a abrir caminho para a diversidade, lutar pelo respeito que qualquer um de nós merece. Isso para que nenhum de nós se sinta sozinho – especialmente, neste caso, no que diz respeito à orientação sexual ou identidade de gênero. Sabemos que se tratam de duas coisas diferentes uma da outra, mas é claro que elas estão ligadas.”
Mas também não precisa ser difícil
“O sexo é visto como algo que é para ser natural. Uma visão que leva as pessoas a pensarem que você não tem nada a aprender sobre isso, que é algo que simplesmente acontece. Quando a educação sexual é priorizada, ela fornece alguns fatos sobre sexualidade e abre mais espaço para sentir, para perceber, que alguma coisa não está certa. E as pessoas que se deparam com um problema sexual não conseguem se diagnosticar, não conseguem entender o que deu errado. Uns pensam que o problema é consigo, outros pensam que é com o parceiro. Mas seja qual for o problema, o que se detecta é uma certa lacuna de entendimento de ambos os lados e uma inabilidade para se comunicar. A ideia de que somos iguais – todas as mulheres são iguais, os homens são todos iguais – não é verdadeira. A noção de que cada um de nós talvez não esteja certo em nossas noções de sexualidade faz parte de um processo de desprender o que sabíamos para aprender o que, de fato, é verdade para nós. Então, quando digo que sexo não é algo simples, claro que não estou ignorando algumas pessoas, em alguns contextos, para quem o sexo é algo lindamente simples, mas quando pensamos em todo o enorme guarda-chuva da sexualidade, nós não temos informações suficientes para que o sexo seja simples.”
Sobre o Center for Sex and Culture
“Quando criamos o centro, o maior esforço era oferecer um lugar onde todos podiam se sentir bem-vindos. Um espaço onde você encontra livros sobre todos os assuntos ligados à sexualidade. E quando você começa a adentrar o universo desse tipo de literatura, você se depara com muita porcaria. Na época, há 15 anos, esse era um tema não muito bem compreendido, e os interessados em pesquisá-lo não encontravam apoio ou respeito por parte de psicólogos ou do governo. Ainda hoje isso é uma luta. Imagino que possamos traçar paralelos com a realidade brasileira nesse sentido, não acredito que esse seja um problema exclusivamente americano. E é importante perceber como, em muitos lugares – Estados Unidos, Brasil e muitos outros –, as vozes estão se levantando. É a isso que me refiro quando falo da cultura do ‘faça você mesmo’. É a própria comunidade que pode unir a comunidade, buscando as similaridades, agindo com honestidade e encarando as complexidades ligadas a todas essas questões. No meu entendimento, criar cada vez mais espaços para esse movimento é o trabalho mais importante de um ativista – ao menos, eu considero essa a minha função mais importante como militante e como escritora. Quando escrevo, o que eu espero é que meus textos reflitam essa postura. E dentro disso, eu vejo essa conferência, e o trabalho do SSEX BBOX no geral, como exemplos desse ‘faça você mesmo’.”
Queer
“Não sou uma pessoa trans, mas também não posso dizer que me sinto 100% cis. Em meados dos anos de 1990, eu publiquei um livro, juntamente com um jovem homem gay, Lawrence Schimel, chamado PoMoSexuals: Challenging Assumptions About Gender and Sexuality. Nessa obra, nós apresentamos conceitos que fazem frente a ideias essencialistas no que concerne a sexo e sexualidade. PoMo é uma contração do termo pós-moderno e a ideia era dar voz às pessoas que eu conhecia, e outras que eu tinha ouvido falar, que se definiam como queer, sentindo os efeitos dessa fluidez, vivendo numa comunidade binária onde você ou é macho ou fêmea, gay ou hétero. São pessoas que não se sentem completamente homem ou completamente mulher, pessoas sem um lugar onde se sentirem respeitados, onde pudessem ser elas mesmas. Acho que esse é o coração da ideia do gender queer”.
Afetividade à brasileira
“Não fui a nenhum bar ou festa, então não tenho essa perspectiva da sexualidade e dos corpos em ambientes como esse. Mas o que eu senti foi uma abertura imediata para a afetividade, e também uma abertura para contar histórias pessoais. Algumas pessoas nos Estados Unidos não teriam tanto essa abertura, assim, de pronto. Muitas iriam primeiro tentar entender sua relação com o outro antes de dizer algo pessoal. Eu posso dizer que percebi um senso de que estamos todos juntos no processo dessa conferência – seja aqui seja no hostel, entre as pessoas que se hospedaram”.
MISS IAN LIBRARIAN (EUA)
Questão de atitude
A ativista queer Miss Ian Librarian, que atua pela equidade de gênero e sexualidade e como conselheira psicológica para adultos no Center for Sex and Culture – além de cuidar do acervo bibliográfico do centro – participou de mesas, integrou plateias e mostrou como moda e política podem estar intimamente ligadas – e à serviço das liberdades individuais. Entre uma atividade e outra, ela deu uma rápida entrevista à reportagem da 1ª Conferência Internacional [SSEX BBOX] & Mix Brasil. Veja como foi a conversa:
Falando um pouco sobre expressões de comportamento, por que você acha que as pessoas tendem a achar que alguém que se expressa do jeito que quer – quanto à sua aparência, roupas, cabelo etc. – não pode ser confiável? Você mesmo contou que algumas pessoas, no seu trabalho, chegam e perguntam “que porra é isso”, quando, na verdade, “essa porra” é a bibliotecária responsável por todo o acervo bibliográfico do Center for Sex and Culture, e mais: atua também como conselheira para pessoas que tentaram suicídio.
Tenho comigo que minhas roupas dialogam com a moda, mas são também políticas. Então houve também um processo para mim de assumir que eu poderia vestir as roupas que eu queria vestir. Eu diria que é muito libertador para uma pessoa vestir algo que ela jamais usaria – nem que seja entrar numa loja e experimentar algo que normalmente você não compraria. Esse exercício vai fazer você se enxergar de um jeito diferente, talvez com uma dose de honestidade a qual você geralmente se recusa – por exemplo, pelo fato do quanto sua identidade para você está ligada a coisas que você veste, quando, na verdade, as coisas que te fazem quem você é são as que estão dentro de você. Eu quero que as pessoas me vejam desta forma e com estas roupas. No meu cotidiano, principalmente como consultor em saúde mental, isso [a forma como se veste, como se apresenta] tem um impacto do tipo: [as pessoas dizem] você é definitivamente “esquisito”, o que me faz sentir confortável. Mesmo que a “esquisitice” desta pessoa não esteja no modo como ela se veste, ela de alguma forma não se sente “normal”, e eu não aparento ser “normal”. E nós podemos nos relacionar a partir disso.
Carol Queen disse que se impressionou em ver como nós, brasileiros, expressamos nossa afetividade na rua. O que isso te ensinou sobre a expressão de nossas sexualidades?
Não sei dizer, estive aqui por tão pouco tempo…
Mas você não foi a festas, bares?
Ah, sim, com certeza fui… (risos).
E aí?
Ah, percebi que as pessoas são mais “físicas”. O que é interessante, porque eu cresci numa cidade pequena, onde muitos homens demonstram sua afetividade com outros homens, mas nada disso pode ser considerado “gay” – porque, afinal, ninguém ali era gay! Na Bay Area nós temos nossas bolhas pessoais, onde todo mundo fica se perguntando “será eu aperto a mão”, “será que eu abraço”, e nessas sempre rola uma confusão. Então é mais fácil quando você sabe que está num lugar onde todo mundo se cumprimenta com um beijo, por exemplo.